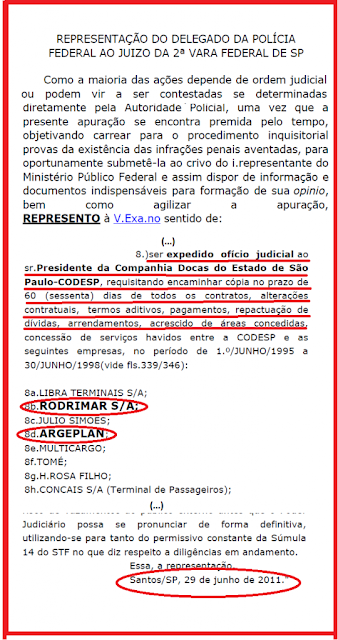Foto:
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Corrupção se
combate com redução da desigualdade e não com moralismo
Talvez seja
possível afirmar que o debate sobre corrupção no Brasil jamais tenha ganho
tanta repercussão como agora. A Operação Lava Jato parece ter feito emergir um
latente sentimento punitivista em parte da sociedade brasileira, o qual se
conecta, de forma inexorável, à noção de que a corrupção se apresenta como um
problema de índole comportamental ou postural, a ser corrigido a partir de
sanções rígidas, capazes de reprimirem a prática desse crime a partir do
“exemplo”. Não é por acaso que, na página das chamadas “Dez Medidas Contra a
Corrupção”, encampada por agentes do Ministério Público que compõem a Força
Tarefa dessa operação, diagnostica-se que é a “impunidade” a causa fundamental
desse mal.
Quando
observamos outras manifestações recentes sobre como lidar com a corrupção,
vemos que essa interpretação punitivista tem força e histórico: se olharmos
para o chamado “pacote anticorrupção” lançado pela então Presidenta Dilma
Rousseff quando ainda parecia ter alguma margem de manobra, observaremos a predominância
de medidas voltadas a tipificar novos crimes relacionados à corrupção ou a
ampliar a punição para práticas ilícitas já tipificadas.
Segmentos da
sociedade civil organizada parecem corroborar esse entendimento: se formos
analisar as propostas vencedoras no âmbito da primeira Conferência Nacional
sobre Controle Social (a CONSOCIAL, realizada em 2012), notaremos a presença de
várias diretivas voltadas a tornar mais duros os crimes relacionados a
corrupção. Há ideias no sentido de se transformá-los em crimes hediondos, ou
mesmo de aumentar a pena máxima possível para o limite de 50 anos (acima,
portanto, dos limites máximos previstos em lei para quaisquer crimes). A força
da rejeição social à corrupção também aparece em pesquisas de opinião recentes,
que apontam para essa questão como o principal problema do Brasil. Como
entender esse aparente paradoxo entre a ojeriza à corrupção e a sua
persistência como questão e como prático? Esse é um dos debates clássicos sobre
a condição brasileira. Pretendo apresentar algumas proposições para apoiar o
debate, a partir de uma leitura que se quer progressista.
A hipótese
básica que apresento é a de que a República é um projeto nacional bastante
incompleto, na melhor das hipóteses
Seu melhor
momento também foi aquele em que sua fraqueza constitutiva se tornou mais
explícita: a Constituição de 1988, hoje sob risco de implosão. No mesmo
documento em que se inserem algumas das mais ousadas tentativas de instituição
de um Estado de Bem-Estar Social no Brasil estão manifestações e pontos de
partida para a consolidação de corporativismos decisivos para explicar o nosso
tempo – e a resiliência da corrupção.
Um
componente intrínseco a uma República é a ideia da igualdade entre os sujeitos.
Em uma cultura política republicana, não só a igualdade existe, mas ela é
desejada pelos atores sociais. Nesse sentido, os espaços públicos –
institucionais ou não – são aí marcados por uma pretensão de eticidade na qual
os cidadãos avaliam suas pretensões com relação ao público a partir de
apreensões individualizadas sobre o universal: o certo e o errado, o justo e o
injusto, o tolerado e o não-tolerado. A ação política (em sentido amplo) é
balizada nessa experiência (por vezes conflituosa) de como realizar o público a
partir das sensibilidades particulares sobre esse público.
Entendo que
esse tipo de encaminhamento sobre o público no Brasil se constitui como algo
extremamente limitado. No lugar de uma eticidade produzida a partir das tensões
concretas que encerram o processo de construção de uma sociedade igualitária
(que depende de condições materiais e simbólicas de reconhecimento da
alteridade para tanto), aqui vige outra lógica: a moralidade é um substituto
pobre da ética, com suas máximas e seus juízos particulares. Por meio dela (ancorada
em dogmatismos religiosos, mas também em sintagmas laicos, mas imateriais, como
adágios e aforismos), o indivíduo julga os outros a partir de elementos
absolutos e metafísicos. Como o “público” é pobre – mera negatividade do “meu”
particular – eu não me insiro nesse juízo.
Nesse
mecanismo, que separa a potência do ato, eu cindo a minha prática ilegal do meu
próprio juízo, mas não faço a mesma operação com outras pessoas. Abre-se espaço
para a incoerência, para a indignação seletiva – ou, se quiserem, para a
hipocrisia. Não é difícil perceber como o punitivismo encontra guarida no
interior desse raciocínio: é impossível a partir dele tratar o problema de
forma sistêmica – o desvio é individual, comportamental, postural, de natureza
humana, e precisa ser reprimido como tal.
No bojo
desse processo está o que mais importa nesta hipótese: a aceitação popular da
injustiça. Se no espaço público ético a justiça se consubstancia no desejo (e
na busca pela produção de) igualdade, no espaço moral não há um universal
concreto contra o qual a minha ação particular possa ser cotejada, a não ser o
meu próprio juízo metafísico. Se cada um faz o mesmo, então temos infinitos
juízos particulares os quais, ao fim, realizam um público sem métrica de
equidade (ainda que haja leis). A desigualdade se torna modus operandi de
realização do público. E a justiça possível nesse cenário é o justiçamento, que
nada mais significa do que a introjeção ao juízo público dos valores morais de
ocasião como critérios de deliberação.
Fundamentalmente,
a desigualdade (em sentido amplo) é causa basilar da corrupção
E esse é,
provavelmente, o fator mais negligenciado no debate sobre a questão, seja
normativamente, seja como prática de política pública. Esse lapso é
surpreendente se levarmos em conta que a desigualdade é, provavelmente, a
preocupação normativa mais relevante em qualquer questão pública abordada por
um prisma progressista. Lamentavelmente, em face de toda a crise política
nacional montada a partir da publicização de escândalos de propina envolvendo a
Petrobrás – fundamentais para derrubar Dilma Rousseff, ainda que formalmente
sua queda tenha ocorrido a partir do sofrível argumento das “pedaladas” – há
pensadores importantes que ainda concebem que a corrupção seja mero “discurso da
direita” para enfraquecer a esquerda, sendo a desigualdade um fator muito mais
relevante a ser considerado no debate público. Aqui, no entanto, consideramos
que a conexão entre ambos é intrínseca – e é fundamental que a esquerda seja
capaz de apresentar uma interpretação própria sobre a corrupção, sob pena de
emular soluções conservadoras se estiver no governo, ou de não ser levada a
sério por se abster de debater criticamente a questão.
Como causa
explicativa, a desigualdade naturalizada (não apenas de classe, mas étnica, de
gênero, religiosa, de poder, entre tantas outras clivagens) cria o caldo para a
aceitação da injustiça e, portanto, para a estruturação de práticas sociais que
adotem a ilegalidade ou para compensar a desigualdade, ou para reforçá-la – daí
a ambiguidade, por exemplo, do chamado “jeitinho”, por tantas vezes
compreendido como a razão da corrupção (e aqui admitido como possível sintoma
dele). Se as instituições reproduzem essa falta de tratamento equânime, então
não há porque acreditar na equidade como um caminho, e no público como um
espaço desejável. Pelo contrário, o privado é aí o porto seguro das virtudes –
repete-se aí o mesmo mecanismo de julgamento moral comentado antes: o público
não é também “meu” ou de todos, mas simplesmente de “ninguém”. Na literatura
internacional, são reiterados os estudos que apontam para o quanto a
desigualdade impacta severamente a descrença social no governo e, mais
amplamente, nas instituições, e o quanto ela estimula a racionalização da
corrupção como uma prática legítima. O ímpeto que a desigualdade causa para a
corrupção extravasa classes sociais: como cita Gunnar Stetler, ex-diretor da
agência anticorrupção sueca em entrevista para a jornalista Claudia Wallin,
“chega um momento em que o cidadão não se contenta com um Volvo e deseja um
Porsche”.
Uma hipótese
a ser testada é a de que a desigualdade no Brasil adquiriu força considerável o
bastante para se constituir como uma espécie de valor ou direito, algo a ser
desejado. Em sendo o caso, estaríamos no exato caminho contrário daquele a ser
perseguido para a constituição de uma República, como mencionado no início
deste ensaio. A pesquisa “Perigos da Percepção”, feita pela Ipsos Mori (2015)
com cidadãos de 33 países traz dados que podem jogar luz sobre a questão,
conotando a ela a devida complexidade: os brasileiros, integrantes da quarta
nação mais desigual do grupo, foram um dos seis conjuntos de cidadãos que
subestimaram o nível de desigualdade existente no país. Ao mesmo tempo, nossos
nacionais foram aqueles que defenderam que o 1% mais rico deveria concentrar o
maior percentual da riqueza nacional dentre todos os segmentos consultados:
33%. Por curiosidade, em países como Israel, Noruega e Holanda, esse range
variou entre 14 e 16%. E mesmo em países mais desiguais do que o Brasil, como
Índia, Turquia e Rússia, as opiniões sobre o quanto deveria ser essa fatia
oscilaram entre 21 e 30%.
Se a
desigualdade é questão profunda na narrativa brasileira, o privilégio é a
representação mais eloquente de sua articulação com a corrupção. Como ponto de
partida para repensarmos como lidar com esse problema, por sinal, precisaríamos
efetivamente redefinir a noção de corrupção, para fazer com que ela comporte em
si o privilégio.
Hoje, boa
parte dos privilégios são assegurados legalmente, inclusive por alguns dos
atores que são responsáveis por dizer o Direito, garantir a justiça e proteger
o patrimônio público. Em meio a uma sociedade que ainda luta para lidar com a
miséria, a presença de salários astronômicos (muito acima do teto
constitucional, já extremamente elevado), a percepção de dezenas de
penduricalhos (auxílio-moradia, auxílio-creche, adicional por tempo de serviço,
adicional de comarca, auxílio-educação e tantos outros) e o acesso a mordomias
(no Judiciário, 60 dias de recesso, motoristas particulares, automóveis
públicos luxuosos, imóveis funcionais de primeira linha, pensões para filhas
solteiras, etc) constituiriam nada menos do que um insulto à dignidade. São
vistos por vários de seus beneficiários e por parte da sociedade, contudo, como
expressões do mérito e como medidas necessárias “para se evitar a corrupção”.
No mundo
privado, por óbvio, a situação não é diferente. Ela pode ser particularmente
percebida a partir do sistema tributário: lucros e dividendos, que compõem a
maioria da renda dos mais ricos, são pouco ou nada taxados; iates, helicópteros
e aviões não sofrem incidência do IPVA; o percentual do PIB recolhido a partir
de tributações ao patrimônio é cerca de dez vezes inferior ao observado em
países desenvolvidos; o imposto sobre grandes fortunas ainda é uma ficção, e
aquele cobrado sobre heranças possui uma das menores tarifas do mundo. Na mesma
linha, vale citar o financiamento altamente subsidiado feito pelo BNDES ao
empresariado – estratégia problemática não em si mesma, mas sim diante da
escolha dos beneficiários em aplicar o dinheiro no mercado financeiro em vez de
torná-lo produtivo. Não seria essa prática uma forma de corrupção?
O grande
ponto é que as gestões consideradas progressistas no Brasil atuaram, na melhor
das hipóteses, de modo extremamente tímido no enfrentamento da desigualdade.
Parece claro hoje que Dilma – e, principalmente, Lula – encararam como desafio
nacional a eliminação da pobreza, jamais a mitigação da olímpica desigualdade.
Se dados mais recentes (como as pesquisas de Marcelo Medeiros) apontam que a
disparidade de renda no Brasil tem sido consideravelmente subestimada (e em
patamar “estável”, e não em queda), há estudos (como os de Gubetti e Orair) que
mostram como o Estado brasileiro tem contribuído para o aumento da
desigualdade, dada a manutenção da distinção entre a previdência pública e a
privada e, principalmente, a política de salários desenvolvida nos últimos anos
a médios e altos funcionários do governo (não apenas os percebidos pela
Magistratura e pela própria classe política, mas também para a assim chamada
elite burocrática do Poder Executivo).
Para se ter
uma ideia, enquanto a inflação acumulada entre 2002 e 2016 foi da ordem de
162%, a remuneração de carreiras como a de Especialista em Políticas Públicas e
Auditor de Finanças e Controle subiu 393% (inicial de R$ 17 mil); a de Delegado
da Polícia Federal, 187% (inicial de R$ 21,7 mil); a de Auditor da Receita
Federal, de 547% (inicial de R$ 19,2 mil mais “bônus de produtividade” estimado
em R$ 5 mil mensais, aprovado em Dezembro/2016). Há diversos outros exemplos.
Os dados levantados pelos autores supracitados mostram que essa política
salarial acaba por mais do que compensar o redistributivismo contido nas
políticas assistenciais (Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação
Continuada, etc). Em outras palavras, o Estado tem acentuado a já rampante
desigualdade, e isso a partir de uma consciente política de valorização
salarial de segmentos do funcionalismo – justamente em um dos únicos momentos
da história política brasileira em que fomos governados por forças
progressistas.
Se houve
algum caminho preventivo à corrupção que foi adotado como solução de política
pública pelos governos progressistas no Brasil, pode-se defini-lo como o da
promoção da transparência e do controle social
Há que se
dizer que essas medidas corresponderam ao estado da arte internacional no
enfrentamento a esse problema – em boa medida Lula e Dilma implementaram parte
substancial das convenções internacionais de combate à corrupção. Não há dúvida
de que tais aspectos contribuem para que contornemos um pesado histórico
autoritário por meio de medidas que aproximem Estado e Sociedade e, com isso,
potencializem a geração de um “público”. Mas como tornar esse processo
efetivamente sistêmico – capaz, portanto, de gerar mudança cultural – em vista
da precariedade monumental de serviços públicos e de infraestrutura (inclusive
Internet) que nos assola, apesar dos avanços institucionais das últimas
décadas? Como também comenta Gunnar Stetler, “Se uma pessoa tem que lutar
diariamente por sua sobrevivência para ter acesso à alimentação, à escola e a
hospitais, a questão do combate à corrupção na sociedade certamente não estará
entre seus principais interesses. Mas quando uma pessoa se sente parte da
sociedade à qual pertence, passa a não aceitar os abusos do poder”. Por
evidente, não se defende aqui que os hackatons, a Lei de Acesso a Informação ou
os Conselhos de Políticas Públicas sejam “perfumarias”, apenas que são suportes
– e não razões de ser – para uma política efetivamente sistêmica de combate à
corrupção.
Há, no
entanto, alguns cânones os quais, por intocados, obstaculizam o avanço do
debate, particularmente a partir de uma perspectiva progressista. Um deles é o
de que um caminho fundamental para o combate à corrupção no Brasil passa pela
autonomização dos órgãos e agentes que praticam a justiça e defendem o
patrimônio público. Qualquer questionamento que ataque esse lugar comum é
naturalmente visto como uma defesa do patrimonialismo, do clientelismo ou de
outras gramáticas políticas as quais, historicamente, foram empregadas para
interpretar o país.
A questão é
que esse caminho da meritocracia, da profissionalização do burocrata e da sua
defesa como ator neutro no processo político (um dever ser ao longo do tempo
convertido em análise factual) nem sempre foi o único concebível. Por um bom
tempo, particularmente nos Estados Unidos, a chamada burocracia representativa
vigeu como método para a ocupação dos cargos públicos do governo. Por trás
desse paradigma se encontravam pressupostos como a ideia de que os postos
deveriam ser preenchidos por cidadãos comuns, e que a composição da máquina
pública com base nos diferentes interesses sociais que representavam a agenda
do governante eleito exprimiria uma tecnologia gerencial ao mesmo tempo justa e
coerente. Essa prática não era sinônima do “toma lá, dá cá”, simplesmente
porque não se tratavam de negociatas ou de interesses divergentes a serem
pactuados a partir de um cargo: o político e o funcionário não eram partes
contrárias, mas agentes vetorizados à realização de um mesmo fim público. Por
evidente, esse princípio operativo não afastava a corrupção, mas não era visto
como sinônimo dela. Na verdade, esse sistema de espólio se inseria como o
mecanismo de convergência possível entre burocracia e democracia à época, em
meados do século XIX.
Foi
principalmente com Woodrow Wilson que esses entendimentos foram transformados
em nome da ideia de que política e burocracia precisam ser separados – questão
que ensejou uma importante reforma administrativa nos EUA do século XIX e em
praticamente todo o mundo desde então. Em vez de representação, o que informava
esse novo modelo burocrático era a superioridade técnica, a meritocracia. Em
paralelo, na medida em que não representavam interesses populares – pois não
eram cidadãos comuns, mas sim experts – esses novos burocratas seriam neutros.
Ao longo do tempo, essa neutralidade foi sendo associada ao republicanismo, sem
se questionar a viabilidade em si de uma ação axiologicamente neutra, nem a
real identidade entre um comportamento apolítico e uma práxis republicana. Por
sinal, como comenta Cecília Olivieri em artigo sobre os controles políticos
sobre a burocracia, no Brasil a relação entre política e burocracia sempre foi
abordada pela literatura como sendo conflitante – nesse sentido, a autonomia
dos burocratas aparece como um devir, uma estratégia a ser perseguida para se
evitar a captura do Estado por interesses econômicos (ou políticos).
Foi
justamente esse o encaminhamento dado pelas gestões Lula e Dilma aos setores
burocráticos críticos do Estado brasileiro, notadamente aqueles voltados a
combater a corrupção: prestígio e autonomização. Vimos anteriormente a extensão
da política de valorização salarial adotada nos últimos anos; vale mencionar a
realização de diversos concursos públicos – em oposição ao período FHC.
Outras
marcas de valorização, como a nomeação de técnicos para postos-chave de Direção
e Assessoramento Superior (até mesmo com a instituição de cotas mínimas de
cargos a serem ocupados por servidores efetivos), a aprovação de denominações
específicas como símbolos de distinção (“autoridade tributária” para Auditores
Fiscais, “excelências” para Delegados da Polícia Federal, etc), também foram
sancionadas nesse período. A autonomização, demanda constante dessas carreiras
de Estado, também veio a cabo: listas tríplices para a seleção de
Procuradores-Gerais do Ministério Público, de Diretores Gerais da Polícia
Federal, entre outros cargos importantes; a desvinculação institucional da
Defensoria Pública da estrutura do Poder Executivo Federal; a alocação
prioritária de recursos para o desempenho de Operações Especiais, etc.
Por outro
lado, essas medidas jamais foram acompanhadas por um eventual incremento do
controle social sobre a burocracia. Ainda que nos governos do Partido dos
Trabalhadores tenham sido desenvolvidas mais de uma centena de conferências e
tenham sido criados dezenas de conselhos de políticas públicas, há que se
observar que os esforços jamais estiveram direcionados para realizar
accountability sobre os agentes públicos, especificamente. A alta burocracia
permaneceu francamente autônoma e crescentemente empoderada. Por sinal, a
disfunção entre as expectativas da literatura nacional e a realidade material
atingiu seu auge quando o próprio Ministério Público, por meio de seus agentes,
passou a liderar uma campanha nacional pela aprovação das supracitadas “10
medidas contra a corrupção”. O lobby pela aprovação de uma agenda que
restringia direitos individuais em nome do aumento da capacidade discricionária
dos próprios burocratas (uma forma de autonomização) converteu-se em “advocacy”
legítimo aos olhos da mídia e de parte da sociedade.
De forma
mais concreta, vimos na Operação Lava Jato o Judiciário, o Ministério Público e
agentes da Polícia Federal, dentre outros, atuarem à margem da lei e em rechaço
à Constituição – a qual os alçou, em sua origem, como alguns dos segmentos mais
importantes a defendê-la (o que percebemos agora como um ímpeto corporativista,
em face das prerrogativas e exclusividades a eles conferidas). Como razão para
esses arbítrios, o “bem maior” do combate à corrupção. Sem respostas proativas,
a esquerda apenas reforçou sua defesa da autonomia dos órgãos de defesa do
Estado, do “apure-se o que tiver de ser apurado”, da integridade pessoal e
moral da Presidenta da República (até hoje incontestável, frise-se). Ou seja,
apenas seguiu adiante no caminho que acabou por levá-la à derrocada diante de
uma direita muito mais articulada em evocar na esfera pública a moralidade
particular como juízo.
Hoje, o
Presidente da República, citado nominalmente em delações de executivos da
Odebrecht, nomeia seu próprio Ministro como Ministro do STF – a julgar casos em
que o próprio Chefe de Governo constará como réu –, e simplesmente não há
freios e contrapesos institucionais ou “morais” para barrar essa agenda.
Talvez essa
seja uma das marcas da fragilidade do legado das administrações petistas no
combate à corrupção, justamente em virtude das crenças e das escolhas feitas:
não reformar nevralgicamente as institucionalidades e as formas de produção dos
espaços públicos, mas sim levar “ao limite” a agenda wilsoniana de
profissionalização de certa burocracia.
Até
encontrar, dada a inação na frente das reformas eleitorais e na frente da
governabilidade, o paroxismo essencial: desenvolver e insular uma burocracia
não-responsabilizável e corporativista para fiscalizar agentes políticos tão
fundamentais à sustentação da base de apoio quanto versados na
operacionalização da máquina “à moda antiga”. Não há legado possível aí porque
nem a burocracia é neutra, nem qualquer administração mais “realista” virá a
conceder o mesmo nível de independência funcional.
Quando se
leva em conta a hipótese da fragilidade do republicanismo e da força
constitutiva da desigualdade na formação da nossa sociedade, compreende-se quão
perniciosa para o combate à corrupção é a ideia de se fortalecer e insular
agentes e instituições. Se dar autonomia e salários astronômicos constituem
formas de privilégio social, se os privilégios expressam o casamento entre
desigualdade e corrupção, se a desigualdade brasileira é fator crucial para
explicar a fragilidade dos espaços públicos, e se essa fragilidade cria
obstáculos fundamentais para a produção de um desejo mínimo de equidade entre
cidadãos, então transformar certos segmentos em “castas meritocráticas” parece
ser a solução mais inadequada possível.
Pensar o
combate à corrupção a partir de um ataque transversal à desigualdade e à
injustiça tem o potencial de se constituir como um programa de governo e uma
agenda de Estado possíveis para que os progressistas disputem a política
institucional no contexto mais conservador das últimas décadas. Para tanto, a
esquerda precisa de fato disputar o significado da corrupção, da ética e da
justiça na realidade brasileira. Ela tem muito a dizer e a propor, mas precisa
revisar seus conceitos e sua abordagem.
No fundo, o
PT dos anos 80 e o PSOL de hoje, dentre outras forças relevantes, contiveram em
seu ideário alguns elementos que dialogam com o proposto aqui. A declamação
ética de agentes políticos desses partidos, contudo, é pontual, sem constituir
uma agenda sistêmica: tratam de posturas individuais, de mandamentos, de
comportamentos idealizados. Estão presas, na verdade, às moralidades
mencionadas no início desse ensaio, ainda que eventualmente virtuosas.
É preciso ir
além, propondo sistêmica e institucionalmente formas de transformação dos
espaços públicos, nos domínios mais localizados (vizinhanças, parques, praças,
igrejas, ônibus/metrôs, etc) e mais amplos (a grande política, as decisões
judiciais, as políticas públicas, a produção da cidadania ativa etc). Trata-se
de reverter com força o processo de abandono do público promovido pelo Estado
ao longo dos últimos 30 anos – que deu vazão, como comentou Christian Dunker em
entrevista recente para a BBC, a vazios ocupados pelo privatismo – favelas,
condomínios fechados, prisões – ou meras zonas de passagem, marcadas por
experiências vazias de sentido. É preciso, para isso, acreditar que a gestão
pública um campo privilegiado para a produção, viabilização e potencialização
de experiências de dignidade, de realização das capacidades humanas, de
civismo. Algo que, lamentavelmente, boa parte da esquerda também se furtou de
elaborar, preservando as velhas crenças positivistas sobre a neutralidade da
técnica.
Não há como
não desempenhar tais tarefas históricas sem disputar profundamente o significado
da corrupção no Brasil, sem deixar de afirmar e comprovar que a corrupção é uma
manifestação da desigualdade, e que a desigualdade é, sim, uma manifestação da
corrupção – e isso não é uma tautologia, mas sim um círculo vicioso, que nos
aponta para a profundidade do nó górdio em questão. Acreditar nessa conexão é
permitir ao campo progressista ir além na crítica à meritocracia como um fim em
si mesmo – ninguém pode ser bom o bastante para ser socialmente tão mais
prestigiado do que os demais – e na compreensão de que o compromisso com a
equidade e com a isonomia devem ser inegociáveis – meia-justiça, afinal de
contas, nunca significou menos do que uma injustiça em dobro.
Sérgio
Roberto Guedes Reis é mestre em Políticas públicas pela FGV e bacharel em Relações
Internacionais pela USP. Atua no serviço público federal brasileiro desde 2012, como Auditor de Finanças e Controle.
GGN/Justificando,
por Sérgio Guedes Reis