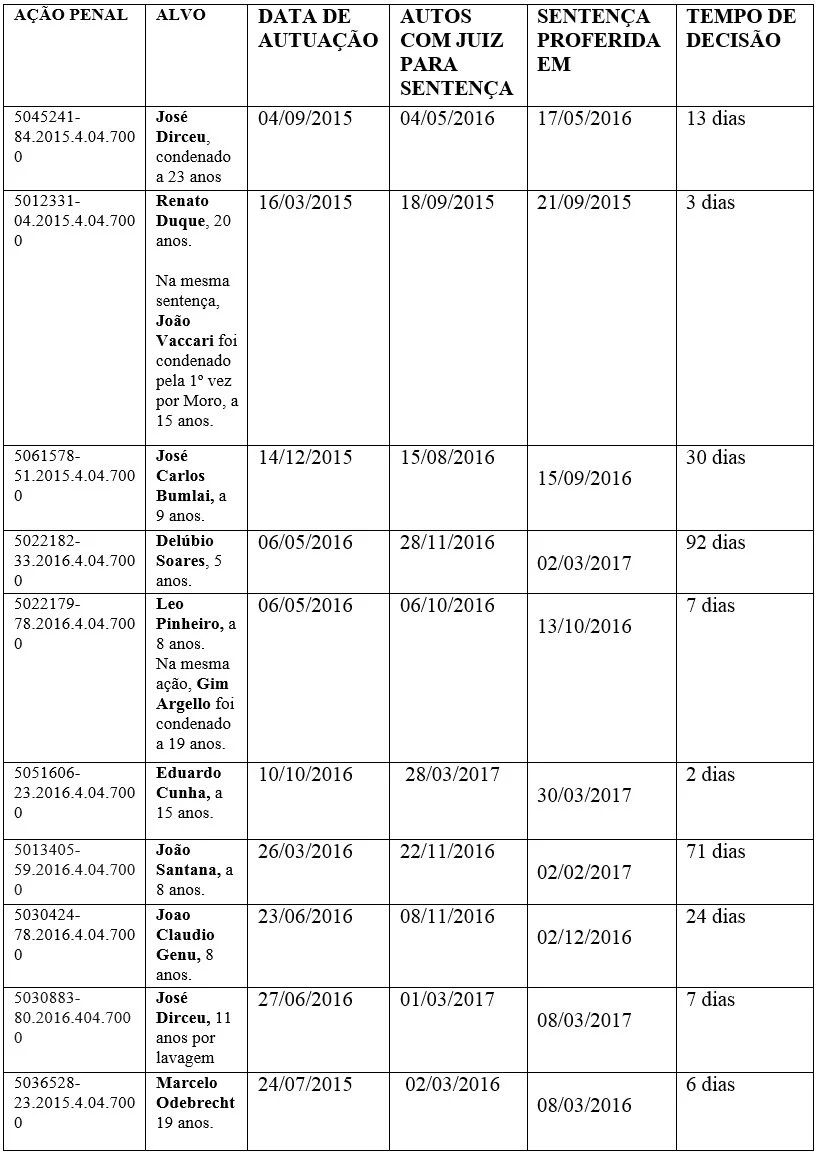Clamor da
Constituição salva, o das ruas passa, diz jurista sobre caso Fachin-Palocci.
O jurista
Lenio Streck avalia, em artigo publicado no Conjur, nesta terça (9), que a
decisão de Edson Fachin em atender o clamor das ruas e retirar da 2ª Turma do
Supremo o julgamento de recurso de Antonio Palocci foi um erro.
Para Streck,
"Só o clamor da Constituição salva. O das ruas é passageiro. Clamor das
ruas não tem cláusula pétrea. É volátil. Os mesmos que hoje amaldiçoam
ministros que concedem habeas corpus são os mesmos que ontem os incensavam,
porque era contra seus inimigos. E, sabemos, incenso queima logo. Ficam as cinzas."
"O caso
Palocci instalou uma guerra midiática e jurídica. Na mídia e nas redes sociais,
a questão jurídica passou a ser uma questão política. Não vou entrar nessa
disputa. Fico com a parte jurídica. Como tenho feito. Assim, identificando o
direito aplicável, tem-se uma questão incontroversa: quem julga HC é turma.
Sim, turma do STF é juiz natural para julgar HC", apontou.
A decisão de
Fachin, relator da Lava Jato no STF, ocorreu após a maioria da 2ª Turma
conceder Habeas Corpus a José Dirceu, José Carlos Bumlai e João Carlos Genu,
todos presos por Sergio Moro.
"Parece
claro que, se não houver um padrão a ser seguido, isto é, um critério
juridicamente consistente e predefinido, não pode o relator simplesmente
escolher os casos que afetará ao plenário. Não é possível entender que a
afetação depende de um ato discricionário", disse Streck.
Clamor das
ruas ou da Constituição? Os casos Dirceu, Palocci e Bruno.
O mais
importante jusfilósofo do século XX, Ronald Dworkin, perguntava, em casos de
extrapolação nas decisões judiciais (ativismo), acerca de quanto estamos
dispostos a pagar para que todos tenham direitos (e eu acrescento: inclusive
nossos adversários ou inimigos). A minha pergunta, aqui, é a mesma que fiz no
caso do juiz que resolveu, por sua conta e risco, que um pai de gêmeos podia
usufruir, por conta da Viúva, 180 dias de licença paternidade. Eu indagava:
quanto estamos dispostos a pagar? E agora pergunto, no caso Palocci: quanto
queremos investir? Todos os nossos recursos democráticos? Vamos bancar que tipo
de jogo? O jogo da Constituição ou o jogo do clamor das ruas? Ou da mídia?
Advirto a
todos que, na famosíssima metáfora de Ulysses, este só se salvou das sereias
porque ordenou que os marujos o amarrassem ao mastro e não obedecessem a
nenhuma outra ordem em contrário. Sobreviveu. Será que sobreviveremos se
continuarmos a tomar decisões ad hoc? Como bem disse o ministro Eros Grau (QO
no HC 85.298-0-SP), por ocasião da tentativa do ministro Ayres Britto de levar
um HC da turma ao Plenário, em situação parecida com esta do caso Palocci,
comentando o argumento do “clamor público”: Para mim, o que importa é o clamor
da Constituição. Isso em primeiro lugar”.
Só o clamor
da Constituição salva. O das ruas é passageiro. Clamor das ruas não tem
cláusula pétrea. É volátil. Os mesmos que hoje amaldiçoam ministros que
concedem habeas corpus são os mesmos que ontem os incensavam, porque era contra
seus inimigos. E, sabemos, incenso queima logo. Ficam as cinzas.
O caso
Palocci instalou uma guerra midiática e jurídica. Na mídia e nas redes sociais,
a questão jurídica passou a ser uma questão política. Não vou entrar nessa
disputa. Fico com a parte jurídica. Como tenho feito. Assim, identificando o
direito aplicável, tem-se uma questão incontroversa: quem julga HC é turma.
Sim, turma do STF é juiz natural para julgar HC.
Portanto,
para afastar a turma, teria de haver um fato novo, uma circunstância que
fizesse o Plenário julgar qual tese — polêmica — prevaleceria, se a esgrimida
pela 2ª ou da 1ª Turma (na sequência, explico isso). Por exemplo, a posição
atual do STF (6x5 – HC 126.292 e ADCs 43 e 44) que poderia trazer um HC para o
plenário seria a questão da prisão para condenado em segundo grau. Tratando-se
de hipótese de HC em que ainda não há condenação em segundo grau, o próprio STF
concede HC diária e normalmente. Aliás, assim foi o HC de José Dirceu. Não há
condenação em segundo grau. Por isso, cada decisão depende do caso concreto.
Por vezes, é a concretude do caso que define a concessão ou não. Só que o
Plenário não serve para dirimir dúvidas de casos concretos.
O que quero
mostrar é que a possibilidade de um habeas corpus ir ao Plenário não depende de
ato discricionário do relator. Fosse assim e o relator escolheria o juízo. Só
que isso transformaria o Relator em super-relator. Para resumir: o artigo 21 do
RISTF, que trata dos poderes do Relator (XI – remeter habeas corpus ou recurso
de habeas corpus ao julgamento do Plenário), não estabelece qualquer referência
ao conteúdo do HC. Mas no artigo 22 existe a delimitação conteudística das
hipóteses: relevante questão jurídica ou divergência de entendimento entre as
turmas, ou entre estas e o plenário, ja existente ou a ser prevenida. Se é
assim, a questão do “caso Palocci” é a seguinte: a divergência (real ou
projetada) se dá com relação a qual questão juridicamente relevante? José
Dirceu foi solto por questão de fato ou de direito? Quer dizer, foi solto
porque se enunciou, abstratamente, “que ninguém pode ficar preso nas
circunstâncias x e y” ou porque “no caso concreto não estão presentes os
requisitos legais etc”? A resposta é que determinará o acerto ou o erro da
afetação ao Plenário do caso Palocci.
Parece claro
que, se não houver um padrão a ser seguido, isto é, um critério juridicamente
consistente e predefinido, não pode o relator simplesmente escolher os casos
que afetará ao plenário. Não é possível entender que a afetação depende de um
ato discricionário.
Assim, a
resposta adequada a Constituição vai na seguinte direção: a afetação ao
Plenário pode ocorrer quando existir tese controvertida em discussão, até então
não dirimida, ou se ocorrer que uma turma esteja julgando contra jurisprudência
pacificada pelo Plenário (e veja-se, ainda, a importância do distinguishing
agora adotado pelo novo CPC). Se não se diz a tese, não há motivo para a
afetação ao Plenário. Mas não é só disso que quero tratar. Vejam a seguir.
Numa
palavra: A Constituição como salvaguarda da política.
Quando no início deste artigo pergunto acerca do quanto queremos investir no
direito no entremeio de uma crise política, faço-o para insistir em uma coisa
na qual venho batendo há anos. Isto porque sigo uma linha de ortodoxia
constitucional e legal. Uma lei só pode deixar de ser aplicada em seis
hipóteses (ver aqui). Fora delas, o juiz-tribunal tem o dever de aplica-la. Não
me importo de ser acusado de positivista. Quem diz isso não sabe o que é
positivismo (para se ter uma ideia, no Dicionário que acabo de publicar, elenco
dez tipos de positivismo, só para ver como isso é complexo).
De todo
modo, os positivistas podem ajudar muito mais na preservação da democracia do
que os sedizentes “pós-positivistas” brasileiros (na verdade, voluntaristas que
“descobriram” que o juiz boca da lei morreu). Também não me ofendo quando me
chamam de originalista. Discussão de lana-caprina. O que me importa mesmo é
reafirmar que Direito não é moral. Que Direito não é política. Direito se
abebera, é claro, destes elementos. Mas depois que está posto, pode sofrer
interpretações a partir da aplicação a casos. O que o direito não pode é ser
corrigido por argumentos políticos ou morais (“clamor das ruas” é argumento
moral). Garantias e direitos constitucionais devem ser aplicados inclusive para
os inimigos, se quisermos fazer uma afirmação retórica. Mas verdadeira. Alguém
pode até dizer que, face ao estado de coisas em que estamos, já não se pode
cumprir a Constituição e que essa só atrapalha. Bom, neste caso, vamos apostar
na barbárie. Eu não quero apostar no caos.
Repetindo-me:
Não posso nunca dizer, de antemão, que o réu é culpado. Em nenhum caso. Ou que
o acusado deve ficar preso. Ou, de forma antecipada, que devemos negar um HC.
Não tenho respostas antes das perguntas. O positivismo do século XIX é que
queria ter todas as respostas antecipadas. E fracassou. De novo: Direito não
pode ser aquilo que o intérprete diz que é. Aliás — e aqui vai o criptograma da
dogmática processual — se digo isso, posso dispensar o processo. E assim
estabeleço um paradoxo: se estou certo, ao mesmo tempo estou errado. Ou seja,
se venço, perco. Por que? Simples. Porque se primeiro decido e depois
fundamento, é porque o processo não importa. E se o processo não importa, estou
confessando que a decisão depende só de minha opinião. E isso já não é direito.
Em síntese,
nenhum réu pode depender do sorteio de relatores. E tampouco da disputa entre
julgamento de uma turma e o Plenário. Aliás, cabe a pergunta: levar para o
Plenário cabe também quando o HC é negado? Mais: com o saber antes se é caso de
afetação? Por exemplo: o caso Bruno deveria ter sido julgado pelo Plenário? Não
esqueçamos que Bruno está condenado em primeiro grau e não há condenação de
segundo grau. Pois é. Querem algo mais polêmico do que dizer que a decisão do
júri equivale a julgamento de segundo grau?[1] Isso não contraria o que o
próprio STF decidira no HC 126.292? E quem negou o HC foi uma turma. E não o
Plenário.
Para
refletir, pois. E dizer em que queremos apostar: se no clamor das ruas ou no
clamor da Constituição.
Do GGN